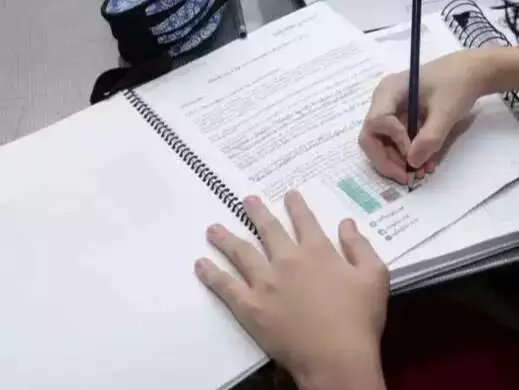Nas últimas semanas, testemunhamos uma escalada de brutalidade. Os feminicídios atingem patamares recordes desde que a lei que tipifica o crime entrou em vigor. A cada seis horas, uma mulher é assassinada por ser mulher — de forma cada vez mais pública, com corpos arrastados pelas ruas da maior capital do país. A resposta institucional — projetos de lei, delegacias especializadas, medidas protetivas — é inegociável. Mas não suficiente. Estamos diante de uma disputa de imaginários. E a sociedade civil já indicou o caminho: o levante “Mulheres Vivas”, no dia 7 deste mês, colocou a vida em primeiro plano, não como pauta proprietária, mas como projeto político capaz de atravessar diferenças ideológicas. É no campo das narrativas que a disputa se trava. A violência que mata mulheres é o ponto de chegada de um movimento cultural histórico, mas que vem ganhando força e organização: a ideia de que “as mulheres foram longe demais”. De que seus corpos e identidades precisam “voltar ao lugar natural de pertencimento” — sob controle, comando e subjugação masculina. Essa narrativa circula de forma desinibida em redes sociais, podcasts, púlpitos e Parlamentos. E produz os efeitos a que estamos assistindo. O imaginário é o maior ativo em disputa porque opera nas camadas mais profundas da vida em sociedade. Não à toa, é aí que as forças ultraconservadoras escolheram investir, definindo papéis sociais sob o pretexto de serem “naturais”. Mas as mulheres estão rompendo com essa lógica. Não só porque seguem ocupando espaços públicos, mas porque disputam de forma frontal o modelo de poder que oprime, que violenta, que separa. Na pesquisa inédita “Imaginário de Poder das Mulheres Brasileiras”, conduzida pelo Instituto Clarice, ouvimos em profundidade mulheres em posições de influência de todas as partes do Brasil, respeitando a composição racial da sociedade brasileira: 44% negras, 44% brancas, 10% indígenas e 2% de mulheres amarelas. Empresárias, cientistas, artistas, lideranças políticas, religiosas, comunitárias — nenhuma descreveu o poder como cargo, título ou capacidade de mando. Todas o descreveram como verbo: a possibilidade de transformar, de fazer circular, de sustentar. Um poder que se distribui, que escuta, que não se mede pela solidão do topo, mas pela qualidade das conexões que cria e pelo valor inegociável da proteção à vida. Esse imaginário é especialmente presente na fala de mulheres líderes negras e indígenas, que historicamente enfrentam a violência de gênero e de raça como binômio inseparável. Como articulou Sueli Carneiro, a vanguarda é via de regra ocupada por quem é deixado para trás. É a partir desse lugar que se produz não só saber político, mas práticas e imaginários indispensáveis para qualquer projeto emancipatório, não apenas das mulheres racializadas, mas de todas as mulheres. Esse avanço, porém, provoca reação. Enquanto as mulheres ampliam sua presença pública e propõem outras lógicas de organização da sociedade, uma parcela dos homens responde com ressentimento. A violência que testemunhamos não é explosão irracional — é tentativa de restauração de uma ordem que se sente ameaçada. E encontra validação em discursos que naturalizam a submissão feminina como destino, não como construção histórica. É aí que entra a imaginação como força política. Não basta mudar estruturas, é preciso conceber alternativas. Por séculos, naturalizamos uma única versão do poder até ela parecer inevitável. E naturalizamos também o lugar da mulher como território a ser ocupado. Por isso, afirmamos: a formulação de novos imaginários sociais é o antídoto estrutural que está faltando no enfrentamento à epidemia de feminicídios. Não basta proteger mulheres da violência — é preciso desmontar a arquitetura simbólica que a autoriza. Isso exige investimento deliberado em movimentos culturais, narrativas públicas e produção simbólica que ampliem os horizontes sobre o papel das mulheres e desnaturalizem a associação entre feminilidade, submissão e espaço doméstico. Combater a violência salva vidas agora; transformar o imaginário salva as próximas gerações. As mulheres estão criando outras linguagens, outros vínculos, outros modos de existir. Estão reescrevendo, no corpo e na vida, o que significa ser mulher neste país. Nosso trabalho é garantir que essa reescrita não tenha volta. A violência que testemunhamos não é explosão irracional — é tentativa de restauração de uma ordem que se sente ameaçada. E encontra validação em discursos que naturalizam a submissão feminina como destino, não como construção histórica. (*) Maria Alice Setubal é socióloga e educadora, presidente do CENPEC. Beatriz Della Costa é comunicadora e ativista social. Mariana Ribeiro é jornalista, com trajetória na cobertura de temas sociais, política e cidadania.
Source link

01/01/2026